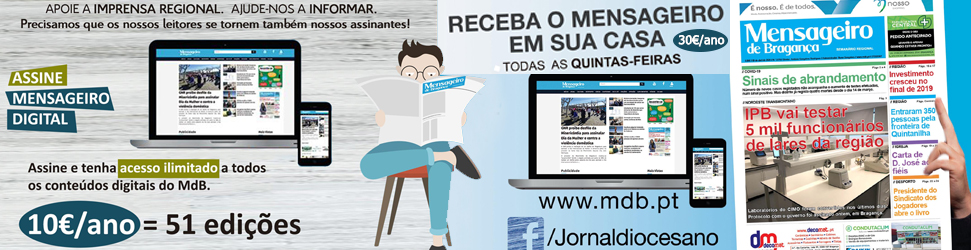Quem cabritos vende e cabras não tem...
A nossa imprensa comentou uma sentença por nesta se fazer especial referência a um velho ditado português “quem cabritos vende e cabras não tem de algum lado lhe vem” para a motivação de uma decisão judicial. Não conheço os termos dessa sentença, mas quando foi publicada a notícia desta estranha justificação para fundamentar uma condenação na área criminal, duvidei da veracidade do que lia e ouvia. Este ditado popular aplica-se precisamente quando surgem dúvidas sobre a vida faustosa de uma pessoa muito para além dos seus rendimentos. O nosso povo refere este ditado quando um certo cidadão que não tem onde cair morto faz vida de rico. Quase sempre por inveja, começa logo a levantar suspeitas sobre a origem do dinheiro para essa vida de tanta abundância. As dúvidas sobre a origem da fortuna desse cidadão, embora sem provas, passam a certezas e a condenação sem defesa na praça pública. Para a dimensão deste ditado português não há lugar nos tribunais e de onde tem de ser enxotado.
O nosso direito rege-se por princípios universais como forma de dar segurança a certas situações criadas pelo homem e entre esses surgiu o princípio da presunção. Qualquer aprendiz de direito quando estuda as noções fundamentais de direito (ou a teoria geral do direito) percebe as vantagens práticas das presunções do nosso direito e as razões por que em certos ramos do direito a sua aplicação não é possível. Qualquer dicionário de terminologia jurídica nos dá a noção de presunção: - “ é uma ilação que a lei, ou o julgador, tira de um facto conhecido para poder firmar um facto desconhecido”. A nossa lei estabelece duas espécies de presunções: a presunção absoluta, ou seja, aquela que não admite prova em contrário, ( júris et jure) e não pode ser ilidida em Tribunal e a presunção relativa (tantum júris ou juris tantum) que admite prova em contrário. Como presunção absoluta podemos referir, como exemplo académico, o princípio de que o possuidor de uma coisa goza da presunção da titularidade do seu direito de posse sobre essa coisa exceto se existir a favor de outrem um registo anterior ao início dessa posse. Com fundamento na presunção legal é possível dar como provado um determinado facto e assim decidir contra ou a favor da existência de um direito. Por regra, quem goza da presunção legal de um direito não precisa de fazer prova sobre os factos que originaram esse mesmo direito.
No campo do direito criminal é diferente; não é possível condenar um cidadão com recurso a quaisquer presunções. A única presunção conhecida e que se aplica neste ramo de direito é a presunção de inocência de qualquer cidadão até à sentença condenatória de que já não é possível interpor recurso, ou seja, sentença definitiva. Se fosse possível condenar um cidadão apenas com base no pródigo coscuvilhar do nosso generoso povo metade da população portuguesa estaria atrás das grades. Esta questão está bem definida na lei penal portuguesa, nomeadamente quando refere, quanto ao meio de prova processual, “não ser admissível como depoimento a reprodução de vozes ou rumores públicos” (artigo 130º do CPP – código processo penal). A privação da liberdade de um cidadão é coisa muito séria e não pode estar dependente da voz popular.
Esta questão da presunção de inocência em direito criminal já está consagrada nos códigos de antigas civilizações. A aplicação do velho princípio “in dúbio pro reo” surge no direito romano como outros, que na prática, tinham o mesmo significado, como sejam, a “affirmanti non neganti incucumbit probatio” – (a prova incumbe a que afirma e não a quem nega), e a “actore non probante réus absolvitur” – (o autor não prova, o réu é absolvido). Estes princípios, que são a garantia do princípio da inocência do reu, foram totalmente invertidos – existiu um retrocesso na civilização ocidental, entre os sec XII e XVIII – sobretudo nas práticas processuais dos tribunais da Inquisição com o objetivo de garantir a supremacia dos poderes do estado (leia-se grandes senhores feudais e dignatários religiosos) que se sobrepunha ao direito e liberdade individual do cidadão. O acusado, só por ser acusado, já era tratado como um condenado, ou seja, existia uma presunção de culpa em vez da presunção de inocência. Interessava obter a confissão do arguido (a rainha das provas), de qualquer forma, com recurso a meios violentos ou prolongados períodos de privação da liberdade. Hoje, além de ser nula a prova dos factos que sejam obtidos com violências sobre o arguido, mesmo a confissão espontânea do arguido desacompanhada de quaisquer provas não é aceite no Tribunal.
A Assembleia Constituinte Francesa aprovou em 26 de maio de 1789 a DUDHC – Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão - que veio repor um princípio de direito a favor do reu indiciado (investigado) pela prática de um crime; o artigo 9º tinha a seguinte redação: “todo o cidadão é considerado inocente até ser declarado culpado e ser tratado no decurso do processo com a devida dignidade não sendo submetido a qualquer instituto ou condição que o equipare a condenado”.
As Convenções Internacionais impõem um tratamento humano ao cidadão/arguido e a nossa Constituição defende em primeira linha a dignidade do homem; apesar disso, ainda temos uma longa caminhada pela frente. A humilhação de um detido começa logo que chega ao átrio do Tribunal, com o espetáculo (barato) que é montado e transmitido (vendido) pelas televisões. Depois, a humilhação do arguido continua a verificar-se ao longo da tramitação do processo. Em tempos, com a sala de audiências do Tribunal repleta de cidadãos, assisti ao julgamento de um médico, profissional muito competente e de reconhecidos méritos; o Sr Juiz, no seu relacionamento diário, sempre tratou aquele médico (seu conhecido) por Sr Dr Joaquim (nome fictício). Durante a audiência de julgamento, o Meritíssimo Juiz passou a tratá-lo por Sr Joaquim. O médico viu-se destituído do seu título académico como se a sua licenciatura lhe tivesse sido cassada, despojado da sua dignidade pelo simples facto de estar a ser julgado. No final, aquele médico foi absolvido do crime de que vinha acusado. Censure-se ou não a atitude daquele Juiz, pergunta-se: haveria alguma necessidade de humilhar o arguido?