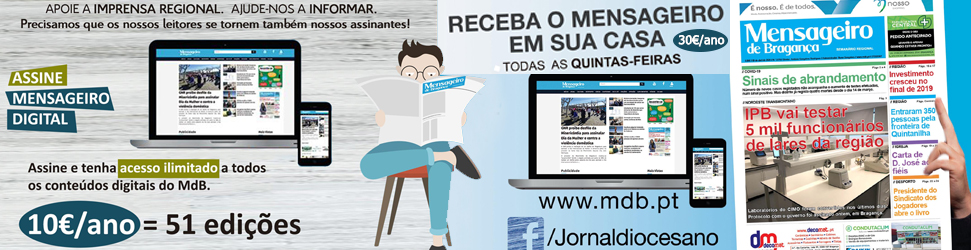Sobre lobos e muros
Há muito, muito tempo eram os lobos a principal ameaça. Por vezes vinham em matilhas poderosas como embaixadores emproados, desfilando pelos descampados, atordoando galinhas com a sua retórica canina. Outras vezes vinham isolados, lobos solitários, como amoladores de facas, ansiosos por aguçar o dente. Lá para os lados de Porto de Mós os camponeses inventaram os muros de pedra seca, desconcertantemente simples. Uma pedra é uma pedra, e pedra sobre pedra, sem adereços fúteis, se faz o muro. O muro protege as galinhas e o gado da mandíbula musculada do lobo, que ao deparar-se com um amontoado cirúrgico de calhaus decide dar meia volta e ir perorar noutras paragens. A última camada de pedra define a função do muro: espessa e pontiaguda, faz-se arpão hirto na direção do potencial predador nocturno; árida e redondinha, como seixos roliços do fundo do rio, faz-se construção plástica, reversível, suscetível de se esboroar como miolo de pão ou miolo de borracha na linha de um lápis.
Outra inovação engenhosa foi a porta para o gato (ou para o cão). Essa pequena abertura de fluxo unidirecional ou bidirecional, colocada precisamente na porta da habitação, para possibilitar o livre trânsito dos bichos domésticos. Começámos a domesticar os gatos há talvez dez mil anos, e desde então os buracos nas paredes, as fendas na madeira, cada pequena abertura foi usada pelos seletos amigos para usufruto da sua liberdade.
Existe ainda a lenda urbana de que terá sido Isaac Newton, pai das leis da gravidade, o inventor da pet door. Reza a história que o afamado génio seria dono de cães e gatos e teria congeminado um sistema de porta dupla: uma porta maior para a passagem do cão, uma porta menor para a passagem do gato. A nota artística está, claro, na inocência de ter ignorado que o gato seria igualmente capaz de passar pela abertura mais larga. Se for verdade, fica-nos a consolação de saber que até o presidente da austera Royal Society se arrogava o direito ao engano e à tolice. Se for mito, confirma-se a nossa comum e mortal necessidade dessa consolação.
No tempo em que os criadores de gado coçavam a mioleira até achar forma de proteger os animais dos predadores, como no tempo em que os humanos decidiram que o cão podia comer os restos do jantar junto à fogueira: aos pequenos atos de génio, gestão das coisas banais da vida toda, ainda não chamávamos “sustentabilidade”. Do mesmo modo as maçãs caíam nos princípios outonais, alheias a equações.
O que há de comum a ambas as construções é serem uma expressão de autonomia, divisórias maleáveis e fluídas que convidam ao seu próprio afrouxamento, que estimulam a transitoriedade de espaços, de lugares. E, apesar disso, são firmes na hora da firmeza: fazem lembrar a coluna vertebral do proletário desgraçado na canção do Chico, que se não tivesse morrido na dor da “construção” haveria de se dobrar ao final do dia para recolher nos braços rasgados o amor de um filho. Se não são os versos resumo dos muros de Porto de Mós: tijolo com tijolo num desenho mágico, num desenho lógico.
Há ainda, no acabamento do texto, uma ironia espessa, feita de meia dúzia de pedras colhidas do chão tal e qual flores silvestres na manhã da espiga: é que talvez se possa atribuir a raiva espumosa do lobo, ameaçado e (por isso) ameaçador, à infelicidade de ver o cão comum, seu primo filogenético íntimo, bem tratado com passadeiras vermelhas e “pet doors” criativas, num caminho sem espinhos. Ou vice-versa. É uma outra vicissitude diplomática.